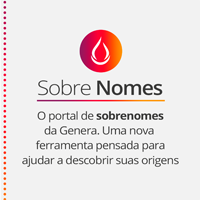Algo se mexe na torre de marfim. Depois de anos ignorando solenemente os autores sem especialização universitária que escrevem para o grande público, a Universidade de São Paulo (USP) organizou um evento que pode ser considerado um marco na relação entre acadêmicos e divulgadores. Realizado entre 16 e 20 de julho de 2012, o I Simpósio Internacional de História Pública reuniu pesquisadores universitários, jornalistas e museólogos, entre outros, para discutir uma questão fundamental para a história no Brasil hoje: afinal, quais são os seus públicos? A iniciativa está ligada a um campo de estudos ainda pouco conhecido em nosso país: a história pública.
Surgida na década de 1970, nos Estados Unidos, essa área do conhecimento procura refletir sobre as relações entre a história produzida dentro e fora da universidade. Coordenadora geral do evento, a professora Sara Albieri, do Departamento de História da USP, afirma que a ideia é fazer a academia começar a se pronunciar sobre o fenômeno das obras de divulgação que atingem o grande público e muitas vezes são produzidas à margem da universidade. Segundo ela, já é hora de os pesquisadores perderem a vergonha e se envolverem nessa atividade para não ficarem presos em um mundo estéril e autorreferente. Leia a seguir os principais trechos da entrevista que ela concedeu a revista História Viva.
História Viva – O que é história pública?
Sara Albieri – Este termo foi popularizado em países de língua inglesa e passou a designar centros de estudos que se ocupam da interface entre a produção acadêmica de história e a participação desse conhecimento em diversas formas de divulgação, como museus, livros didáticos, filmes e videogames, por exemplo. Alunos entraram nesse curso de história – e eu pude testemunhar isso – loucos para estudar história medieval por causa do videogame. O que significa essa inspiração histórica que de vez em quando impacta a cultura? Normalmente a academia não leva isso a sério, ignora. Então este nome “história pública” é uma revisitação, vamos dizer assim, dessa questão que está aí na cultura o tempo todo, tentando fazer a academia abrir os olhos para isso, se pronunciar, estabelecer algum tipo de diálogo com esse fenômeno, porque a intervenção da história na cultura vai sozinha, quer a academia queira ou não.
HV – Na sua opinião, quem são os principais responsáveis pela divulgação do conhecimento histórico no Brasil hoje?
As revistas de história me chamam bastante atenção. Acho também que os museus sempre estiveram lá, mas, com essa onda recente de reivindicação da memória, eles passaram a receber um novo fôlego, porque uma porção de empresas, prefeituras, associações de bairro e as mais diversas organizações culturais e sociais começaram a se interessar pela preservação do seu passado e da sua memória. E, por fim, há as aventuras dos autores de romances históricos, que recriam episódios do passado do Brasil, e depois isso vira uma minissérie de TV ou passa a ser tema de uma novela.
HV – Nos últimos anos, vários escritores de fora da academia publicaram obras de não ficção de cunho histórico que fizeram um sucesso razoável. A senhora acredita que esse tipo de literatura impactou a produção acadêmica? E de que forma a academia está respondendo a isso?
Eu acho que impactou, sim. Mais do que a academia gostaria de admitir. Porque, em geral, na cultura acadêmica, sempre que há um desses sucessos de público com tema histórico a primeira tendência é minimizar, considerar que não é uma coisa tão importante, tratar como um fenômeno sazonal. E, se alguém se dá ao trabalho de prestar um pouco de atenção, é para achar defeito. Achar tudo ali que não foi feito como seria em uma pesquisa acadêmica. Mas a questão é que esses autores são aqueles que depois recebem convites para falar de história. Aí já começa a preocupar mais. E, às vezes, quem escreve esses livros não são só aventureiros. Se o autor não tem credenciais de historiador, fica mais fácil desqualificar o trabalho, mas às vezes alguém tem credenciais e faz isso, como Boris Fausto fez em O crime do restaurante chinês. Aí fica mais difícil desqualificar. Então como é que fica? Por isso acho que temos de levar mais a sério essa questão.
HV – A história pública é uma forma de divulgação científica?
Na minha opinião, a história pública deveria ser entendida como uma forma de divulgação científica. Agora, aí, também, já vem uma especificidade, porque muitas vezes professores e profissionais que se ocupam da história pública tendem a achar que o que eles fazem não é só uma divulgação científica. É uma militância pela acessibilidade do conhecimento. Quanto mais a pessoa tiver um pendor para fazer uma história do povo, ou uma retórica nessa direção, então vai defender isso e nem vai pensar em divulgação científica, porque já está desqualificando a ciência da história que é feita na academia e considerando que a história pública é uma espécie de anticiência. Então, mesmo dentro da história pública, há divergências. Há os que entendem que a academia continua a ter uma espécie de controle de qualidade sobre o que vai ser divulgado e outros que questionam a própria preeminência da academia como lugar de produção de conhecimento. Eu sou mais conservadora. Minha opinião é que nós já ganharíamos muito se a academia, nas humanidades de um modo geral, levasse a sério a divulgação científica. Ninguém que é acadêmico precisa se envergonhar por fazer isso. E se alguém que não é da academia faz, é possível ter um diálogo frutífero com essa pessoa, até porque os mecanismos de comunicação com um público maior têm um saber específico, do qual o produtor do conhecimento acadêmico, em geral, não dispõe. Digamos que aquele que é da academia sabe o que dizer, mas o outro sabe como dizer. E essa junção, com todo o respeito de ambas as partes, poderia produzir alguma coisa de grande qualidade.
HV – A senhora acha que falta divulgação de história no Brasil?
Eu acho que falta. Sem dúvida cresceu, se compararmos com outros períodos, porém há toda essa polêmica de a academia ignorar quem faz isso. É como se os pesquisadores universitários não quisessem se misturar e ser vistos opinando sobre essas obras, porque isso já seria dar a essa produção um nível de qualidade só por comentá-la. Então eu acho que é isto que nós temos de perder: esse esnobismo, que não tem o menor cabimento.
HV – Nos países em que a história pública é mais difundida, como Estados Unidos e Grã-Bretanha, os historiadores, mesmo que não usem o termo, são muito mais preocupados em divulgar a própria produção para um público mais amplo. Isso não acontece muito no Brasil. Por quê?
Se pensarmos a história das instituições universitárias no Brasil, vemos que de início elas abrigaram certo público, certo conjunto de pesquisadores que deveria funcionar como uma elite intelectual. A ideia é que nós estamos aqui fazendo uma pesquisa de elite, que poucas pessoas conseguem conduzir a contento. É uma coisa para poucos. Eu não quero questionar o fato de que a pesquisa acadêmica de fato não interessa muita gente. As pessoas têm interesses diversificados, e na minha opinião é até uma bobagem achar que todo mundo deveria ser, por exemplo, um neurocirurgião. Tanto que muitos querem entrar na universidade porque o mercado não lhes dá oportunidade a não ser que eles tenham esse diploma, e não porque estejam muito interessados em fazer pesquisa pura. Então essa é uma vocação que pouca gente tem. Mas isso não quer dizer que você está divorciado da sociedade ou é automaticamente o guia dela, só porque ocupa esse lugar de poucos. Então uma pessoa que tenha uma vocação especulativa ou científica não se torna imediatamente qualificada para ser, por exemplo, um líder político da nação, como queria Platão, para quem os filósofos deveriam ser governantes. Eu acho que isso de a universidade se formar como um gueto – que não é um fenômeno só brasileiro – e acabar por conversar só entre si, cria essa ilusão e essa cultura especial de que o que acontece aqui está decidindo os destinos do mundo e que nós estamos exercendo uma espécie de liderança. São duas ilusões: achar que se está no umbigo do mundo e que todos estão esperando a nossa palavra para saber o que fazer. O que a divulgação faz é mostrar que você não está falando para ninguém. Porque, quando um público mais amplo começa a ler, começa a se interessar e a se motivar por questões que são suas, e você descobre que não foi você que as divulgou, que isso foi apropriado por alguém; bate essa sensação de apropriação indébita, de furto. Mas isso é uma situação incômoda também por essa outra razão, porque lembra quão pouco impacto social tem aquilo que você faz aqui. Porque, quando você fala só para os pares, isso lhe dá a sensação de que você tem algum impacto e alguma influência. É isso que a divulgação quebra, principalmente quando é bem feita.
HV – A senhora tem sentido mudanças na atitude da academia em relação à divulgação de ciências humanas nos últimos tempos?
Eu acho que alguma coisa mudou, até pela força dos tempos. A gente tem pressão de internet, um outro tipo de aluno, que vem menos ligado à leitura e à grafia e mais à imagem. Como professor você tem de enfrentar desafios que numa outra geração seriam impensáveis. Começa a haver uma demanda e uma exigência que obrigam a mudar um pouco os seus costumes, mas acho que ainda é uma coisa meio morosa, ligada a iniciativas individuais.
Fonte: Revista História Viva, Duetto Editorial.